
Posts Tagged ‘idealismo’
Filosofia oriental e o idealismo
Em sua análise crítica do idealismo, Han inicia reafirmando a metáfora do “espelho vazio” no qual repousa a ausência do “eu desejante, sobre um coração em jejum”, ao contrário de Fichte (1752-1814) “filósofo do eu e do estado-de-ação”, um dos expoentes do idealismo alemão.
“espelho vazio” no qual repousa a ausência do “eu desejante, sobre um coração em jejum”, ao contrário de Fichte (1752-1814) “filósofo do eu e do estado-de-ação”, um dos expoentes do idealismo alemão.
Citando Fichte, em seu livro sobre a Ausência: “o sistema da liberdade satisfaz meu coração, o sistema oposto o mata e aniquila. Ficar frio e morto, apenas observando a mudança dos acontecimentos, um espelho inerte das figuras que passam e escapam – essa existência me é insuportável, eu a desprezo e execro” (Han, p. 34).
Ele vai lembra a doutrina da “felicidade celestial” (tian le, 天樂, Z. livro 13) de Ziang Zhou, uma “felicidade suprema” (zhi le, 至樂 , Z. Livro 18), já de outro modo a sorte (fu, 福) repousa sobre uma diferença ou presença, “uma percepção parcial”, quem aspira a sorte acaba se entregando ao azar (Z. livro 15) (Han, 2024, p. 35).
É importante notar que “a ausência de sentido não conduz ao niilismo, mas é uma felicidade celestial com o ser que não tem direção nem rastro” (idem, p. 35).
A doutrina da felicidade celestial de Zhuan Zhou é diametralmente “oposta à doutrina kantiana da felicidade”, em sua antropologia Kant observa que “preencher o tempo com ocupações que progridem um grande fim proposto” é “o único meio seguro de se tornar feliz com a própria vida e, ao mesmo tempo, também saciado dela” (Han pgs. 35-37 citando a obra de Kant Antropologia de um ponto de vista pragmático).
Kant compara a vida a uma jornada, termo presente em muitas narrativas ocidentais, e que elas ocasionam na memória a “inferência […] de que se percorreu um grande espaço e, por conseguinte, também a inferência de um tempo mais longo exigido para isso” (Han citando Kant), para ele Ser é agir, onde “a ausência de objetos perceptíveis, engendra retrospectivamente o sentimento de um tempo mais curto” (Han, 2024, p. 36).
Tanto para Laozi como para Zhuang Zhou “um projeto de existência e um mundo inteiramente distinto são possíveis” (idem, p. 36).
Para estes mestres orientais: “o mundo, com cujo curso natural o ser humano deve se resignar, não é narrativamente estruturado. Por isso ele também é resistente à crise do sentido, que é sempre uma crise narrativa” e o “mundo impelido a uma trajetória narrativa estreita e reduzido”, esta narração e seleção de sentido são uma “exclusão massivas, ou ao mesmo tempo uma diminuição do mundo”. (HAN, 2024, p. 37).
A ideia de nações fechadas, de estruturas belicistas de poder fez o mundo ficar reduzido a narrativas “estreitas”, enquanto Zhuang Zhou ensina a conectar o mundo inteiro, a ser “tão grande quanto o mundo, elevar-se ao mundo inteiro em vez de agarrar-se a uma pequena narrativa e a uma distinção” (HAN, 2024, p. 38).
HAN, B.C. Ausência: sobre a cultura e a filosofia do extremo oriente. Trad. Rafael Zambonelli. Petrópolis, RJ, Vozes, 2024.
KANT, I. Antropologia do ponto de vista pragmático. São Paulo: Iluminuras, 2006.
O conhecimento e uma nova Paideia
Paideia era o ideal de educação de Sócrates, o eidos para ser mais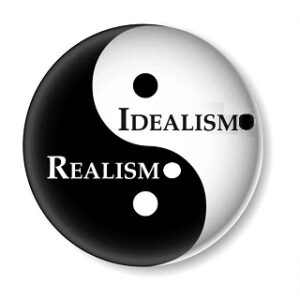 exato, mais que formar o homem deveria formar o cidadão, lembre-se e contextualize que a cidade-estado era uma forma de organização específica onde a polis surge como uma organização extra civilizatória, ou seja, não era mera forma de poder, e sim como pensar a cidade como ética e virtude, o primeiro esboço de uma ideia de bem-comum.
exato, mais que formar o homem deveria formar o cidadão, lembre-se e contextualize que a cidade-estado era uma forma de organização específica onde a polis surge como uma organização extra civilizatória, ou seja, não era mera forma de poder, e sim como pensar a cidade como ética e virtude, o primeiro esboço de uma ideia de bem-comum.
Assim definiu Platão, já que só conhecemos Sócrates por Platão, a Paideia era: “(…) a essência de toda a verdadeira educação ou Paideia é a que dá ao homem o desejo e a ânsia de se tornar um cidadão perfeito e o ensina a mandar e a obedecer, tendo a justiça como fundamento”, olhando a sociedade atual é fácil de perceber que não o atingimos.
Contextualizando o período de Sócrates e dos sofistas é aquele em que enquanto o primeiro dizia que era possível e necessário além de organizar o ethos, e da práxis, o conhecimento para alcança-los, este conjunto é a episteme.
A episteme, conhecimento verdadeiro, de natureza científica, em oposição à opinião infundada ou irrefletida, era uma clara oposição aos sofistas, que entre outras coisas diziam que a verdade não pode ser alcançada, então tudo eram formas de manipular a verdade, em termos atuais, apenas narrativas de acordo com conveniências.
Górgias (485-380 a.C.) dizia textualmente: “Nada é; se alguma coisa fosse, não poderia ser entendida; e se pudesse ser entendido, não poderia ser comunicado a outras pessoas”, tese que será negada por Platão, e a alegoria mais conhecida é o mito da caverna que é uma metáfora, e cuja episteme se desenvolverá nas categorias de Aristóteles, com o problema da analogia já abordado.
O conhecimento platônico/aristotélico por um longo percurso da idade médica, podendo ser citados Agostinho Hipona que imagina que a verdade como podendo ser obtida por meio da autorreflexão feita pelo homem e sua interiorização em Deus, na baixa idade média Boécio desenvolve a ideia dos universais e particulares, cuja discussão se dividirá entre nominalistas.
Os nominalistas não admitiam a existência de universais, Roscelino de Compiègne (1050-1120) é um dos fundadores, e por outro lado realistas, como Tomás de Aquino todas as entidades, podem ser agrupadas em duas categorias universais e particulares.
O idealismo emerge como corrente realista, mas se distância dela criando uma objetividade imanente, e a transcendência é o conhecimento que o sujeito tem do objeto, já na fenomenologia, o transcendente é aquilo que transcende a própria consciência, é objetivo no sentido de que só existe consciência de “algo”, e assim está ligada ao sujeito que vai além.
Bachelard (1884–1962) foi um pioneiro a estuda de que forma a epistemologia a referir-se às rupturas “revolucionárias”, cria formas novas de pensar e de saber, voltaremos ao tema.

