
Arquivo para a ‘Sem categoria’ Categoria
Estoicos, epicuristas e Cínicos
Sêneca foi advogado e grande escritor, porém foi muito questionado e é ainda hoje, por ter sido preceptor de Nero, é bom lembra que lenda ou fato Nero o condenou ao suicídio por traição, e o filósofo foi coerente com sua teoria contra a ira e o fez pacientemente.
foi muito questionado e é ainda hoje, por ter sido preceptor de Nero, é bom lembra que lenda ou fato Nero o condenou ao suicídio por traição, e o filósofo foi coerente com sua teoria contra a ira e o fez pacientemente.
Também é famosa sua frase “Se eu decidisse percorrer uma por uma das repúblicas atuais, não encontraria nenhuma apta para tolerar o sábio ou uma que o sábio poderia tolerar”, era assim consciente de seu tempo e talvez esta seja a razão de estar voltando “a moda”.
Era diferente dos epicuristas porque defendia o envolvimento público dos filósofos, afinal este foi o primeiro argumento no tempo de Platão para fundar sua academia, porém Sêneca chegou a afirmar em “A retirada”, que em certas circunstâncias seria melhor retirar-se da vida pública, porém isto jamais significava uma omissão, e explica-a em “A retirada” desta forma:
“Flutuamos, sendo atirados de um lado para outro; coisas almejadas, abandonamos; o que foi posto de lado, retomamos. Assim, ficamos alternando em fluxo permanente de volúpia e de arrependimento. Estamos condicionados, inteiramente, ao parecer alheio”.
Em tempos de polarização, nem sempre racional, também é motivo para ele voltar à baila.
Além dos “puristas” epicuristas e os “retirados” estóicos como Sêneca, há os cínicos, enquanto os primeiros valorizavam os aspectos “naturais”, o comportamento dos filósofos cínicos apontava para uma distinção filosófica entre os aspectos naturais (physis) e os costumes humanos (nomos), um problema que permeou todo o pensamento filosófico da Grécia Antiga, chegando, de certa forma, também aos nominalistas e realistas da idade média.
Lembro a crítica da razão cínica, obra de Peter Sloterdijk, para dizer que o problema é atual e não por acaso estas correntes ressurgem, ainda que atualizadas por problemas sociais e políticos, apontam uma crise civilizatória.
A sociedade que tenta eliminar a dor, o sofrimento, que cultua a “natureza” lembra também os estóicos, os que tentam destruir a cultura e os costumes humanos, lembra os cínicos, é preciso dizer aqui que não significa o senso comum de dizer o que não é verdade.
Antístenes, de Atenas, e Diógenes, de Sinope, foram os primeiros cínicos, viviam desprezando os costumes e os “sábios” de seu tempo, Sloterdijk diz que hoje “não é um tempo próprio para o pensamento” e de certa forma tem razão, cinismo vem da palavra grega kynikos, que quer dizer cães pela forma que viviam abandonados nas ruas e muitas vezes pedindo esmolas.
Neste pensadores há um fundo de razão pelo qual devem ser estudados, sabiam a crise que a civilização de seu tempo vivia, procuravam dentro de uma sociedade conturbada um vida feliz e longe dos falsos problemas de seus contemporâneos, mas Sêneca e outros não se omitiram na vida pública, razão pela qual ensinavam a valorizar o sofrimento e entender seu porque.
A ética, o humanismo e a filosofia
Peter Sloterdijk disse ao jornal El país: “ a vida atual não convida a pensar” (em 03/05/2019) e a “era do humanismo está terminando” disse Achille Mbembe historiador e pensador pós-colonial camaronês: o humanismo hoje é uma questão de estado e portanto de poder, como sua base é o economicismo impera um humanismo de tipo materialista nem sempre considerado os valores humanos.
atual não convida a pensar” (em 03/05/2019) e a “era do humanismo está terminando” disse Achille Mbembe historiador e pensador pós-colonial camaronês: o humanismo hoje é uma questão de estado e portanto de poder, como sua base é o economicismo impera um humanismo de tipo materialista nem sempre considerado os valores humanos.
A filosofia virou justificativa ideológica do poder, a polarização levou a extremos até mesmo a negação de autores cujo autores juram defender, o epistemicídio eurocêntrico esquece seus fundamentos mais básicos e se entregam a polarização política.
O que significou a ética spinoziana? Qual a crítica da razão atual? Sloterdijk aponta o cinismo.
A guerra era inevitável em uma crescente polarização política e nova ordem econômica pelo avanço da economia chinesa.
A filosofia atual já pensa em alternativas de humanismo, Edith Stein fenomenóloga e aluna de Husserl explorou a questão da Empatia, Heidegger outro aluno de Husserl a questão do Ser, Emmanuel Lévinas sobre influência hermenêutica husserliana e Heidegger define o humanismo como além da essência ou seja, o humanismo do outro homem, que pode ser um ponto de partida para o novo humanismo, e também Habermas (A inclusão do Outro) e Byung Chul Han (A exclusão do Outro) tocam o tema.
A religião se confunde entre ritualismo, fundamentalismo e ausência de valores humanísticos básicos: amor, solidariedade e fraternidade, assim a leitura bíblica é manipulada e parcial, o secularismo avança em campo minado pela ausência de valores humanitários da fé.
Espera-se que nesta crise e fragmentação do desenvolvimento civilizatório os lideres e homens influentes possam encontrar serenidade, diálogo e equilíbrio para possíveis saídas.
A filosofia não pode ser outra coisa que não coopere com a paz, com o avanço civilizatório.
O Espirito Absoluto de Hegel
Era inevitável que o idealismo pela segmentação que faz da realidade caísse em alguma forma de misticismo sem uma clara cosmovisão, é a busca ontológica que o homem tem de sua completude como um todo e qual a relação com o Absoluto.
alguma forma de misticismo sem uma clara cosmovisão, é a busca ontológica que o homem tem de sua completude como um todo e qual a relação com o Absoluto.
Heidegger argumentou sobre a precedência da questão do Ser, a filosofia idealista tem esta busca, conforme já salientamos em outros posts, porém aqui nos concentramos no seu ápice Hegel, não apenas na Fenomenologia do Espírito, mas em praticamente todos escritos há uma busca do Todo.
Em cada uma das representações que constitui o Todo, ele constitui o Absoluto, a Ideia e a Ideia da filosofia.
Hegel desenvolve a apreensão do Absoluto através de três momentos: a Arte, a Religião e a Filosofia, de modo um pouco simplista pode-se dizer que a arte é a corporificação da Ideia, a expressão do imediato divida em Natureza e Espírito.
Hegel (1995) descreve que, A arte e as intuições que ela produziu, necessita não só de um mundo exterior dado, ao qual pertencem imagens e representações subjetivas, mas a expressão do conteúdo espiritual, também precisa das formas dadas pela natureza para a sua significação ao qual deve possuir e pressentir (Hegel, 1995, p. 342).
É bastante significativo o fato que Hegel desenvolve a representação do Absoluto quando cita os povos gregos, considerada como expressão mais elevada para os gregos, a religião tinha uma forma antropomorfa, ou seja, os deuses eram tão carnais quanto os homens, então são sujeitos.
Assim esta religião surge da relação entre a Religião da Natureza e seus mitos, enquanto a relação com a Religião Cristã, é a consciência de si do espírito que é a humanidade infinita.
O espírito absoluto aparece como saber de si da humanidade, sendo a consciência da história efetiva, sendo que a filosofia desembaraça da imediatez das paixões para se entregar à contemplação.
Segundo Hegel (1995): “O espírito absoluto não se pode explicitar em tal singularidade do configurar: o espírito da bela arte é, portanto, um limitado espírito de um povo, cuja universalidade essente em si, ao avançar para a ulterior determinação de sua riqueza, decompõe-se em um politeísmo determinado” (HEGEL, 1995, p. 342).
Para Hegel, o espírito só é espírito na medida em que é para o espírito, manifestando-se a si mesmo.
Assim seu espirito é para-si no sentido de para si mesmo, pouco ou nada do Espírito Santo que é totalmente em projeção ao Outro, quer seja na trindade cristã, quer seja na alma humana não é fechamento em-si.
HEGEL, G.W.F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas (1830). 1. Ciência da Lógica, 2. Filosofia da Natureza, e, 3. Filosofia do Espírito. Trad. Paulo Menezes. São Paulo: Loyola, 1995.
Espírito e o racionalismo prático de Kant
Embora Kant toque pouco na questão do Espírito, para ele o que existe é um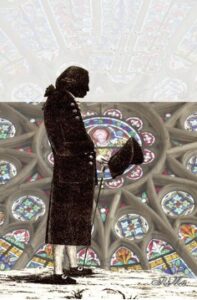 “espírito” prático típico do iluminismo, há uma exceção que é a sua leitura de um autor sueco Swedenborg, um visionário do mundo suprassensível dos espíritos, e que Kant trata na obra Sonhos de um visionário.
“espírito” prático típico do iluminismo, há uma exceção que é a sua leitura de um autor sueco Swedenborg, um visionário do mundo suprassensível dos espíritos, e que Kant trata na obra Sonhos de um visionário.
A metafísica de Kant está ligada ao dualismo entre sujeito e objeto, entretanto neste livro extrapola o cunho dogmático racionalista e aproxima os dois mundos (corpo e mente) através de um mundo suprassensível e assim, teríamos a configuração daquilo que seria a alma em contato com o corpo, por meio do espírito, ou seja temos três entidades: o espírito, a alma e o corpo, para estabelecer as relações ele cria uma problemática “psico-física” muito engenhosa.
Usando as visões de Swedenborg (que supõe sejam verdadeiras) imagina que a alma possui um contato com o outro mundo unida ao corpo que conhece objetos da sensibilidade (a dualidade sujeito x objeto) enquanto o espírito em sua relação com a alma também busca conhecer tais objetos, uma vez que ele não está completamente ligado ao corpo e permanece num mundo dos espíritos, veja que pouco ou nada tem de ligação ao mundo espiritual religioso.
Swedenborg se vê como um “oráculo dos espíritos” que possui sua alma aberta para receber informações, o que o torna diferente dos outros homens, então a sua alma se comunica com o outro mundo, por meio da ligação com o espírito, há nisto um mundo espiritual, e este mundo espiritual existindo, as almas poderiam se comunicar por um tipo de telepatia, entretanto não é o que ocorre.
Como ele explica então esta comunicação, há limites do conhecimento através das relações entre a alma humana e o suposto mundo dos espíritos, e tal argumento é o que ele denomina como um comércio “psico-físico” entre o mundo dos espíritos e o mundo sensível pela alma que se encontra no homem.
Muito elaborada, porém a elaboração de Hegel será mais completa e dialoga com toda a cultura filosófica moderna assim como com a teologia cristã, mas para divergir, ao contrário de uma tese que aproxima, a de Hegel se afastará e encontrará nas teses dialéticas motivações para a Fenomenologia do Espirito.
KANT, I. Sonhos de um visionário explicados por sonhos da metafísica. In: ______. Escritos pré-críticos. São Paulo: Ed. Unesp, 2005. p. 141-218.
Ascese e o dualismo entre corpo e alma
Já na filosofia grega, a autodisciplina e o autocontrole do corpo e da mente (ou da alma) acompanhavam a ascese assim como a busca da verdade.
(ou da alma) acompanhavam a ascese assim como a busca da verdade.
Esta busca e sua correspondente ascese está em toda a filosofia e até na literatura, é da peça Hamlet de Shakespeare “há mais coisas entre o céu e a terra que supõe a vá filosofia”, mas é da mesma peça “Ser ou não ser, eis a questão” que remete a ontologia.
Freud também dizia que a principal tarefa de uma existência é compreender a mente, na filosofia contemporânea há o clássico dilema da separação de corpo e mente (ou alma), até Marx se propunha a inverter o caminho de Hegel “da terra para o céu”, claro o céu hegeliano.
O certo é que o processo civilizatório depende de ascese, dos homens como comunidade e dos homens individualmente porque senão não terão o que levar para a comunidade se não tem uma ascese própria, levarão a miséria humana e a decadência que vivem.
O dualismo corpo e mente é aquele que separa os fenômenos da mente (que seriam apenas mentais, no caso da alma, apenas espirituais) e do corpo que são físicos e, portanto, são amplamente separáveis, também há hoje uma filosofia barata que afirma que aquilo que penso se tornará realidade, não cito os livros para não dar popularidade maior a este sem qualquer base teórica ou prática.
A fenomenologia de Husserl penetrará na categoria ontológica da “intencionalidade” para remover este obstáculo “a peculiaridade em virtude da qual as vivências são vivências de alguma coisa” (HUSSERL, 2010), e no § 14 de Meditações cartesianas (1931), repete-o novamente, mas de um modo mais completo: “A palavra intencionalidade não significa outra coisa senão essa particularidade fundamental e geral da consciência de ser consciente de algo, de portar, em sua qualidade de cogito, o seu cogitatum nela mesma” (HUSSERL, 2010).
Husserl e seu professor Franz Brentano recuperaram a categoria de intencionalidade de Tomas de Aquino para o qual o exterior na natureza (esse naturale) é como as coisas existem, as formas sendo distinto de existir no pensamento (esse intentionale), apoia dessa forma o modo da existência, no qual as coisas existentes no intelecto (in intellectu) como “coisas pensadas”, porém Husserl retira da intencionalidade a base empírica e a objetividade imanente.
Mostramos no post anterior esta separação entre Filosofia da Natureza e Filosofia do Espírito como divergente e até opostas, ao admite que de certa forma há na consciência alguma forma de consciência de algo é base para a fenomenologia e depois na ontologia e no existencialismo, há na consciência uma forma definida e transcendental do que é externo, porém parte da intencionalidade da consciência.
O transcendente está presente na mente (ou na alma) através da intencionalidade, enquanto o transcendental é de ordem superior e só se torna conhecimento se pode ser compreendido dentro do mistério transcendental da existência, ou retornamos ao nada.
HUSSEL, E. Meditações Cartesianas. Conferencias de Paris. Phainomenon –Clássicos de Fenomenologia . Portugal. CFUO: 2010.
Controvérsias da ascese espiritual e filosófica
Para negar a ascese recorre-se a ideia que ela estaria impregnada da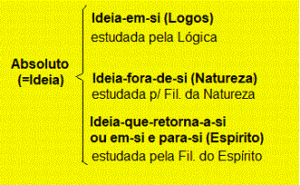 “exegese cristã” entretanto a própria literatura mostra que isto é uma contradição, pois tanto a filosofia idealista tenta refazer uma visão daquilo que é o espiritual na “Fenomenologia do Espírito” como também mais modernamente Foucault ( ) vai dizer que os gregos na época helenística e romana estariam longe de compreender o termo que denominamos de ascese. “Nossa noção de ascese é, aliás, mais ou menos modelada e impregnada pela concepção cristã”. (FOUCAULT, 2004, p. 399).
“exegese cristã” entretanto a própria literatura mostra que isto é uma contradição, pois tanto a filosofia idealista tenta refazer uma visão daquilo que é o espiritual na “Fenomenologia do Espírito” como também mais modernamente Foucault ( ) vai dizer que os gregos na época helenística e romana estariam longe de compreender o termo que denominamos de ascese. “Nossa noção de ascese é, aliás, mais ou menos modelada e impregnada pela concepção cristã”. (FOUCAULT, 2004, p. 399).
No dicionário hegeliano de Michel Inwood encontramos o conceito de Espírito (geist): “Geist inclui os aspectos mais intelectuais da psique, desde a intuição até o pensamento e a vontade, mas excluindo e contrastando com a alma, o sentimento etc.”, porém o Espirito no uso hegeliano tem um sentido ao mesmo tempo semelhante e diverso do usado no cotidiano (no sentido da alma) e na filosofia, uma vez que ali também há um sentido “trinitário”.
Como em toda filosofia idealista, Hegel é um pós-kantiano é bom que se diga, há uma busca de superação da dualidade sujeito e objeto, para Hegel ela se encontra no Espírito Absoluto, dito de forma a propiciar um encontro entre o sujeito e o objeto, formando uma identidade que se dá no interior da relação mútua entre subjetividade e objetividade.
Enquanto em Kant a transcendência é aquilo que faz o Sujeito ir até o objeto, em Hegel é o Absoluto que marca um encontro entre o sujeito e o objeto, formando uma identidade que se dá no interior da relação mútua entre subjetividade e objetividade, mas em ambos não há na transcendência um Ser.
É importante entender esta relação porque nela se realiza aquilo que Hegel trata como atividade intelectual essencial, para a apreensão intelectiva tanto acerca do objeto (que é justamente o momento da alienação como “saída-de-Si”) quanto do próprio sujeito (o retorno à subjetividade após a experiência com o objeto, isto é, o Outro como ele vê), assim diferente da ontologia de Husserl, Heidegger e outros, que vê nisto uma relação ontológica com o Ser.
Para isto deve se penetrar nas categorias hegelianas: em-si, de-si e para-si, ditas na Filosofia do Direito como: “Com efeito, o em-si é a consciência, mas ela é igualmente aquilo para o qual é um Outro (o em-si): é para consciência que o em-si do objeto e seu ser-para-um-outro são o mesmo. O Eu é o conteúdo da relação e a relação mesma; defronta um Outro e ao mesmo tempo o ultrapassa; e este Outro, para ele, é apenas ele próprio” (HEGEL, 2003);
Muitos filósofos contemporâneos vão ver o Outro, como algo além do Eu, e uma para-si algo além do Eu e do Outro, um “para” de além de.
Ainda que haja controvérsias tanto no idealismo Hegeliano, quanto na sua concepção dialética “trinitária”, é importante notar que para ele os membros de uma comunidade devem sempre entre os princípios sempre ter aquele que “tem objetividade, verdade e moralidade” (HEGEL, 2003, §258).
FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito. Tradução Márcio Alves da Fonseca; Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
HEGEL, G.W.F. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução: Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
INWOOD, M. J. Hegel. Dicionário Hegel. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
Ser imanente e transcendente
Estes conceitos da filosofia são difíceis de entender se não o colocamos no dia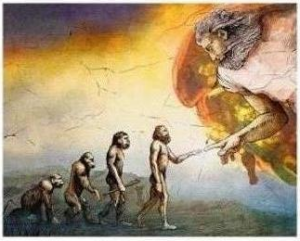 a dia, de modo bastante supercial pensemos assim: o que temos interiormente e nos define como seu “eu” é interno e imanente a mim, o que tenho externo e define como o além de mim é “transcendente”, o Outro e ara aqueles que tem alguma crença o Divino.
a dia, de modo bastante supercial pensemos assim: o que temos interiormente e nos define como seu “eu” é interno e imanente a mim, o que tenho externo e define como o além de mim é “transcendente”, o Outro e ara aqueles que tem alguma crença o Divino.
Claro que não é bem assim estes conceitos, o imanente é aqui que está inseparavelmente presente em um ser ou objeto na natureza, é inseparável dele e não pode o ser não pode ser pensando sem ele, para o kantismo, diz respeito a conceito e preceitos de teor cognitivo.
Já o transcendente, é aquilo que transcende a natureza física do ser e das coisas, corroborando com o imanente do kantismo, esta corrente o define como aquilo que é presente no objeto e fora do sujeito, algo que lhe é externo e só pode ser conhecido pela “transcendência”, veja o aspecto cognitivo novamente presente.
Retomando o post anterior, as categorias em-si, de-si e para-si podem e estão presentes neste tipo de imanência/transcendência com base idealista (Kant e posteriormente Hegel), que afirma “de início, a consciência-de-si é puro para-si”, assim ela é independência absoluta, afirma que sua transcendência em relação a tudo o que é para-Outro, assim o ser fica preso a este binário Sem-em-si e para-si, conforme vai detectar Sartre em sua obra “O ser e o nada”.
Assim não há um alter, não há o Outro puramente fora e além do ser-em-si, este para no sentido do grego pará (como paramédico, parâmetro, etc.) mas um retorno ao em-si, assim a consciência de si está ligada ao ego e não a nenhuma possibilidade cosmológica ou divina.
Afirma Hegel: “A consciência-de-si é em si e para si quando e porque é em si e para si para uma Outra; quer dizer, só é como algo reconhecido. (…)” (HEGEL, 1992, p. 126)
Entretanto é possível definir uma relação entre imanência e transcendência sem dualismos, assim o ser-em-si aquele que se define internamente e com suas propriedades, pode ter uma relação com tudo que está fora, os objetos e o Outro (que é em sentido plural).
Há uma transcendência fora, que está além o conhecimento, que se pode ter através do uso da linguagem, das relações humanas e da intuição contemplativa, é o Ser-para-si que completa e define o ser-em-si (dá a ele uma identidade transcendente), estabelece uma relação de-si com a natureza e com o Outro e encontra na contemplação divina um Ser para-si que é um origem de tudo e além da ex-sistencia (ex – fora, sistencia – forte, eterno), que é essência ara as definições anteriores, pois é puro Ser.
HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito. Petrópolis: Vozes, 1992.
Poder e dominação
Escrevemos em nossos ensaios anteriores a diferença entre poder e dominação, e o  poder pode ser exercido com sabedoria e discernimento, mas na maioria das vezes ele descamba para a mais pura forma de dominação: controle de opiniões e narrativas e exercício da força para isto, neste caso é muito mais fácil tornar-se pura dominação.
poder pode ser exercido com sabedoria e discernimento, mas na maioria das vezes ele descamba para a mais pura forma de dominação: controle de opiniões e narrativas e exercício da força para isto, neste caso é muito mais fácil tornar-se pura dominação.
Byung Chul Han em seu livro “O enxame” que fala da dominação “psicopolítica” discorre sobre o uso das mídias e seu controle para isto, as tendências atuais de uso de IA torna isto mais perigoso, ali descreve que a única forma possível de simetria é o respeito.
Escrevemos em um post anterior aqui, muito antes desta tensão de guerra que para sobre a nossa civilização:
“A simetria, a reciprocidade, a compreensão da diversidade humana e o respeito a ela, quase sempre é ignorado nos modelos do início do século assado, voltar a eles não é senão um prenuncio de uma tragédia maior: a crise civilizatória de raízes mais profundas que as anteriores”, escrevemos isto bem antes do início da guerra no leste europeu.
Entendendo que isto parte de modelos de dominação política das opiniões e narrativas de poder, a análise de Byung Chul Han no seu livro: “O que é poder” mostra a eficiência do uso das novas mídias como uma forma de controle eficiente e direcionadora até mesmo de nossas “liberdades”.
Entre suas análises, encontramos entre várias discussões em torno da filosofia moderna e contemporânea e as práticas rotineiras da pós-modernidade uma que é particularmente importante e que foge de muitas análises: a gamificação.
O jogo que, em geral, motiva os participantes com seu sistema de recompensas produtor de sensações imediatas de êxito é também ferramenta de exploração na psicopolítica. A comunicação social se manifesta na carência gramatical do Twitter, no apelo afetivo do like e na alienação promovida pelos influencers.
Assim o querer que é administrável de acordo com nossas possibilidades e reações do Outro, é treinado nos jogos eletrônicos como um querer compulsivo, deseja-se “abater” o inimigo, e o ritmo cada vez mais compulsivo vai sendo ditado pelas batalhas e rapidez nas respostas.
Ainda que se possa encontrar vantagens na gamificação ou que se possa pensa-la em termos educacionais: construir uma casa, uma fazenda ou fazer jogos de conhecimento, há um forte predomínio por “batalhas” e domínios de territórios.
HAN, B.C. O que é poder. Trad. Gabriel Salvi Philipson. RJ: Petrópolis, Vozes, 2019.
A crise idealista e a retomada ontológica
A evolução do iluminismo tanto na política como na economia culminou no hegelianismo,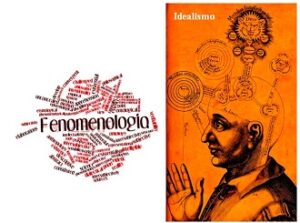 após a passagem pela crítica da razão por Kant, é a última grande teoria que procura realizar uma totalidade “integrada”, sujeita a contradições “dialéticas” (é diferente da dialética da antiguidade clássica) e segundo seu modelo a finalizada última seria atingir a plena essência espiritual, que pouco ou nada tem a ver com religiosidade.
após a passagem pela crítica da razão por Kant, é a última grande teoria que procura realizar uma totalidade “integrada”, sujeita a contradições “dialéticas” (é diferente da dialética da antiguidade clássica) e segundo seu modelo a finalizada última seria atingir a plena essência espiritual, que pouco ou nada tem a ver com religiosidade.
Foi assim a ascese materialista dialética que terminou num enorme vazio e no “esquecimento do ser”, termo usado por Heidegger para contradizer as teorias que desde Descartes esvaziaram e criticaram a leitura metafísica da realidade, na etimologia da palavra a meta-physis, neste caso o grega, já que sua origem é de lá, segundo Aristóteles era a primeira ciência, dava conhecimento sólido sobre as coisas, e o estudo se confunde com a ontologia, o “ser enquanto ser”.
Para Kant este estudo se confunde com o de costumes, é um conhecimento não-empírico ou racional, seu estudo sobre a moral e a “subjetividade” vai partir desta relação com os costumes culturais e aqui já há uma forte dose de relativismo, e aprofunda o dualismo entre Sujeito x Objeto, esquecendo o “Ser”.
Assim aquilo que é subjetivo, teórico ou metafísico vai caindo em descrédito e crescem as teorias da objetividade, da praticidade e do realismo empírico, isto não será feito sem contradição, porém a própria definição de dialética idealista é esta, o desenvolvimento deste conceito a partir de si mesmo.
Platão definia a dialética como a arte de pensar, de questionar e de organizar as ideias (eidos grego – imagem, já postamos algo), assim não estão fora de questão nem a teoria (também o idealismo é uma teoria, por sinal pouco prática), nem a metafísica nem o “ser”.
A teo-ontologia do final da idade medida vai estabelecer as relações entre o ente e o ser, segundo Tomás de Aquino ele “é infinito. Por isso, se ele se torna finito, é necessário que seja limitado por alguma coisa, que tenha a capacidade de recebê-lo, isto é, pela essência”, presente em sua tese “O ente e a essência”.
Em meio a crise do pensamento idealista, veja o post anterior, surge uma nova corrente a partir de Franz-Brentano na metade do século XIX, que retoma a fenomenologia e a ontologia trabalhando sobre a intencionalidade da consciência humana, que era um estudo específico em Tomás de Aquino, para tentar descrever, compreender e interpretar os fenômenos como eles se apresentam à percepção.
Brentano foi professor de Husserl, que relê Descartes e Kant, e elabora a fenomenologia com diferente sentido dado pelo seu professor Brentano, procura separar o que é empírico, assim o fenômeno do ato mental não é algo que aparece instantaneamente na mente, mas depende da memória e elabora a partir daí os conceitos de protensão e retensão, a discussão sobre o que é consciência hoje chega aos objetos da Inteligência Artificial.
Heidegger foi aluno de Husserl, e a partir dele pode-se considerar tanto a viragem linguística (nem todos autores concordam) quanto a retomada ontológica.
Consciência humana e senciência maquínica
Consciência envolve aspectos espirituais humanos (na filosofia idealista chamada de  subjetividade) e aquela que faz o homem ter uma verdadeira ascese que eleva seu caráter, suas atitudes e sua moral numa escala progressiva de aprendizagem, onde é admitido o erro, mas corrigido de forma humana.
subjetividade) e aquela que faz o homem ter uma verdadeira ascese que eleva seu caráter, suas atitudes e sua moral numa escala progressiva de aprendizagem, onde é admitido o erro, mas corrigido de forma humana.
Senciência é o fato que temos percepção consciente de nossos sentimentos, é a capacidade dos seres (humanos, pois não acreditamos que uma máquina mesmo sofisticada possa ter esta ascese), e nos seres ela passa a sentir as sensações e sentimentos de forma consciente.
Na figura uma representação do século XVII, um dos primeiros estudos foi o matemático inglês Robert Fludd (1574–1637).
Quanto menos conseguimos ter consciência de nossos sentimentos, menos temos senciência e menos capacidade de entender nossos sentimentos, a tentativa de traduzir as sensações (os tipos de risos, alegrias, tristezas, etc. para a máquina), sempre estarão subjeitas a algoritmos, mesmo que muito sofisticados, e por isso chamo de senciência maquínica, já que a consciência maquínica está descrita de diversas formas, por diversos autores.
A verdadeira consciência humana é assim aquela que nos permite alcançar níveis de ascese de diversas formas: altruísmo, colocar-se no lugar do outro, viver uma vida justa e apreciar a justiça, enfim uma verdadeira espiritualidade que nos eleve como humanos, e também é aquela que está ao alcance dos que sofrem com injustiças e barbáries humanas.
Para os cristãos aquilo que nos faz alcançar uma verdadeira ascese está descrito nas chamadas bem-aventuranças (Mt 5,1-12) que fala dos pobres, dos aflitos, dos mansos, dos que tem forme e sede de justiça, dos que tem capacidade de perdoar e falaz com clareza do desejo da paz: “bem aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus”, assim em todos circunstâncias que se vive em dias sombrios é preciso promover a paz.
Os contornos de intolerância e violência, não só na guerra da Ucrânia, mas em quase todo o planeta deve preocupar os que defendem a paz.

