
Arquivo para a ‘Museologia’ Categoria
Culturas originárias, redes e pós-colonialismo
As pesquisas arqueológicas e paleontológicas indicam que a África é o provável continente que surgiu a espécie humana, fósseis de hominídeos encontrados na África (por exemplo, na Tanzânia e no Quênia) indicam que a espécie primitiva habitou aquela região cerca de cinco milhões de anos atrás.
a África é o provável continente que surgiu a espécie humana, fósseis de hominídeos encontrados na África (por exemplo, na Tanzânia e no Quênia) indicam que a espécie primitiva habitou aquela região cerca de cinco milhões de anos atrás.
Porém. na literatura histórica, quando de fala de culturas originárias fala-se principalmente de culturas antigas como os maias no México, os Incas na região andina, os indígenas principalmente da região amazônica brasileira, na Colômbia a população é de quase dois milhões de habitantes, 4,4% que tem a Organização Indígena da Colômbia (ONIC), que estão se organizando em função da covid-19.
Na Amazônia, a comunidade indígena Sahu-Apé, está a somente 80 km de Manaus, e dados de organização (como a Terra Viva) dão conta que 65% da população indígena está na pobreza e 30% na pobreza extrema.
No Perú, um grande número de culturas originárias indígenas está retornando para as montanhas devido a escassez de alimentos e o medo da covid-19, muitas vezes apenas com a roupa do corpo, no Chile e na Bolívia a influência da cultura originária indígena é muito forte chegando a dominar a colonialista, no Perú 27% são quíchua, 3% aymara e mestiços 59,5%.
Assim estes povos formam redes de comunicação para preservação de sua cultura e autodefesa de seus valores culturais, e é preciso pensar num desenvolvimento sustentável que não os massacres como fez o colonialismo selvagem, não apenas com a violência, mas também com seus valores culturais.
As modernas redes eletrônicas, que são mídias de redes sociais, não eliminam nem se sobrepõe as redes culturais já existentes, é preciso não as ignorar e respeitar seus valores e cultura.
A questão do Ser envolve também a sociabilidade e o funcionamento em rede de culturas originárias, boa parte da cultura contemporânea em crise ignora ou tergiversam sobre os valores ontológicos que estão na raiz de muitos trabalhos em torno das culturas originárias, é preciso um pensamento pós-colonial que não veja o processo civilizatório apenas do ponto de vista eurocêntrico e colonial.
Dei uma entrevista alguns anos atrás abordando a questão das redes e ontologias em culturas originárias na rádio USP, o programa estará no ar hoje as 13 h (hora de Brasília, 16h horário de Londres e 10h horário de Nova York), o link para acesso online é: www.radio.usp.br/?page_id=5404 , ou na frequencia 93.7 MHz.
Bem aventurança e beatitude
Embora o termo esteja associado a santidade cristã, e é também um dos seus aspectos, o termo na antiguidade clássica tinha um significado mais genérico, um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude que somente um sábio podia alcançar, assim pensava Aristóteles, mas hoje está condicionado somente ao sentido religioso, pretende-se aqui mostrar que podem estar mais próximos do que se pensa.
seus aspectos, o termo na antiguidade clássica tinha um significado mais genérico, um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude que somente um sábio podia alcançar, assim pensava Aristóteles, mas hoje está condicionado somente ao sentido religioso, pretende-se aqui mostrar que podem estar mais próximos do que se pensa.
O significado religioso é também o da felicidade, mas no sentido de gáudio de prazer equilibrado da alma, que só pode alcançar quem desfruta da presença de Deus, que sua plenitude poderá ser atingida somente na vida eterna, mas não significa descartar a vida terrena, “eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância” (Jo 10:10), assim proclama o evangelista, mas o que há de diferentes entre as duas propostas de felicidade.
Aristóteles no livro Das Causas vai dizer que o fim da beatitude é relativo ao desejo da mesma, assim a natureza última deste fim move-se principalmente pelo desejo e este é o prazer, tanto que absorve a vontade e a razão do homem a ponto de fazer desprezar outros bens.
Tanto Boécio, que a igreja também o beatificou (isto é o proclamou feliz, beato e santo), e Aristóteles trataram do tema, e a pergunta deles é o que se o prazer é mesmo o fim último da felicidade, da beatitude e que também Tomás de Aquino vai argumentar ao contrário.
O que diz Boécio é que são tristes as consequências dos prazeres, sabem-no todos os que querem lembrar-se das suas sensualidades, pois, se estas pudesse os fazer felizes, nenhuma razão haveria para que também os brutos não fossem considerados tais, e isto lembra muito os casos atuais de abusos e violências reprováveis.
Para Boécio: “A bem-aventurança é o estado perfeito da junção de todos os bens”, e assim parece que pelo dinheiro poderão se adquirir todas as coisas, porque o Filósofo, no livro V da Ética, afirma que o dinheiro se inventou para ser a fiança de tudo aquilo que o homem quisesse possuir, o que hoje pode ser traduzido como o dinheiro compra tudo.
Além disto diz também Boécio: “Mais brilham as riquezas quando são distribuídas do que quando conservadas. Por isso, a avareza torna os homens odiosos, a generosidade os torna ilustres”, e assim não se condena a riqueza, mas a sua má distribuição.
Na representação acima o quadro “O violinista alegre com um copo de vinho” (1624) de Gerard van Honthorst (1590-1656).
O amor em Santo Agostinho
Esta foi a tese de doutorado de Hannah Arendt com influências diretas de Edmund Husserl, Martin Heidegger, inicialmente seu orientador, que depois passou a orientação a Karl Jaspers devido seu envolvimento pessoal com Arendt, assim é necessária alguma compreensão da fenomenologia e da ontologia existencial.
diretas de Edmund Husserl, Martin Heidegger, inicialmente seu orientador, que depois passou a orientação a Karl Jaspers devido seu envolvimento pessoal com Arendt, assim é necessária alguma compreensão da fenomenologia e da ontologia existencial.
Terminamos a semana passada fazendo uma reflexão sobre a política e religião justamente a partir da compilação das Obras Póstumas da própria Arendt, e o que desejamos apontar é a possibilidade de uma civilização fundada nos princípios do Amor, no sentido da caridade (virtude teologal) e como Agostinho a via.
Longe de ser uma apologia dessa forma elevada de Amor, ela vê contradições e vai desenvolver a questão do amor a Deus, amor ao próximo e a si mesmo, e usa a fenomenologia para aprofundar este tema, mas é uma conclusão apressada dizer que a fenomenologia se opõe ou mesmo favorece estes sentimentos, que em si, são sim contraditórios, por exemplo, o amor ao próximo e a si mesmo tem nuances diferentes para a grande maioria das pessoas.
Sua conclusão é que não é possível forma uma sociedade humana fundamentada apenas no amor caritas (lembrando sempre que trata-se de uma virtude teológica e não de simples generosidade) e o ponto central é analisar Agostinho apenas do ponto de vista filosófico, já que Arendt não tinha interesse nos aspectos teológicos.
Arendt por dividir sua dissertação em três partes se deve a uma vontade de fazer justiça a pensamentos e teorias agostinianas que correm em paralelo. Assim cada parte “servirá para mostrar três contextos conceituais nos quais o problema do amor tem papel decisivo” (esta citação é tirada de uma tradução para o inglês que a própria Hannah Arendt trabalho e tem diferenças com a portuguesa).
A primeira parte Arendt vai analisar “O que eu amo, quando amo o meu Deus?” (Confissões X, 7, 11 apud Arendt p. 25), na segunda parte discute a relação entre a criatura e o criador, ela intitula o capítulo “Criatura e Criador: o passado rememorado”, e na terceira parte discute
Na primeira parte a autora descobre que Deus é a quintessência de seu eu interior, Deus é a essência de sua existência, e ao encontrar Deus em si o homem acha aquilo que lhe faltava: sua essência eterna. Aqui, o amor por Deus pode se relacionar com o amor próprio, pois o homem pode amar a si mesmo da maneira correta amando sua própria essência.
No final segunda parte vai discutir a relação com o próximo, como deve amá-lo como criação de Deus: “ […] o homem ama o mundo como criação de Deus; no mundo a criatura ama o mundo tal como Deus ama. Esta é a realização de uma autonegação em que todo mundo, incluindo você mesmo, simultaneamente recupera sua importância dada por Deus. Esta realização é o amor ao próximo.”
Na terceira parte da dissertação, intitulada “Vida Social”, que Arendt dedica ao que ela chama de “caritas social”13, a relevância do vizinho, e o amor ao próximo ganham nova justificativa, vai discutir o princípio adâmico do pecado e vai dizer que este é o princípio que nos ligará a Cristo, que vem para nos redimir deste pecado.
Aqui aparece a contradição com Agostinho: “É porque todos os homens compartilham este passado que eles devem se amar: “a razão pela qual se deve amar ao seu próximo é porque seu próximo é fundamentalmente seu igual e ambos compartilham o mesmo passado pecador”, assim não é o fundamento do Amor, mas do pecado que nos torna iguais aos outros próximos.”
Por escolha o homem deve renegar o mundo e fundar uma nova sociedade em Cristo. “Essa defesa é a fundação da nova cidade, a cidade de Deus. […] Essa nova vida social, que é baseada em Cristo, é definida pelo amor mútuo (diligire invicem)”, há uma obra de Agostinho dedicada a isto: “cidade de Deus”, e a tese que é somente filosófica assim concentra-se apenas na relação mundana (ou humana, como queiram), não vê o homem como tendo uma origem divina e feito para o Amor.
Para Arent o que nos torna irmãos e eu posso amá-los em caritas, no amor verdadeiro, e isto é expresso em Agostinho, segundo Arendt, concilia o isolamento gerado pelo mandamento de amar a Deus com o mandamento que diz para amar ao próximo, encerrando a dissertação.
Segundo Kurt Blumenfeld, amigo de Arendt que teve grande importância em seu envolvimento com o judaísmo e a política, a resposta para a questão era o sionismo e um retorno à Palestina, mas a emigração para lá nunca foi parte dos planos de Arendt, buscava na vita socialis sua resposta sobre o Amor, não entendeu totalmente o caritas.
ARENDT, Hannah. O conceito de Amor em Santo Agostinho. Tese de doutorado 1929. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
A festa e os convidados
A festa de Babette é uma alegoria a uma festa divina, e a misteriosa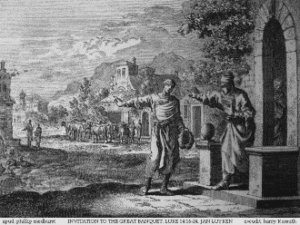 cozinheira que humildemente vai trabalhar durante muito tempo em uma casa até poder anunciar e realizar a festa, os convidados apesar de desconfiados aceitam e sentem suas vidas renovadas.
cozinheira que humildemente vai trabalhar durante muito tempo em uma casa até poder anunciar e realizar a festa, os convidados apesar de desconfiados aceitam e sentem suas vidas renovadas.
O que vivemos em tempos de pandemia é a ausência da festa, mas a verdadeira festa para a qual todos fomos convidados a da fraternidade para todos e de um maior equilíbrio na distribuição de rendas, no tratamento das diversas culturas e do respeito a dignidade humana está longe de ser uma festa.
Quem foram os convidados, primeiramente aqueles que dizem ter estes princípios e que nem sempre são os praticados, ou seja, participam mais das festas das riquezas, do poder e de suas benesses do que promovem a festa que todos poderiam participar.
A pandemia deveria ser uma tomada de consciência, privados da festa, deveríamos pensar naqueles que sempre foram privados, e não procurar promover mesmo na pandemia nossa festa particular onde os amigos participam.
A parábola bíblica (Mt 22, 1-14) da festa de casamento na qual um rei chama os convidados e eles dão desculpas para não comparecerem, é uma boa explicação para o que acontece aos que foram convidados e não foram e aos excluídos que são chamados para a festa e eles vão, é diríamos uma última tomada de consciência.
Os convidados, diríamos em termos bíblicos os eleitos, não foram, então o rei manda seus empregados irem as praças, as encruzilhadas dos caminhos e chamarem a quantos encontrarem para a festa, porém na festa nota ainda alguém que não está com trajes adequados (na foto gravura de Jan Luyken).
A alegoria bíblica é para dizer que também entre os não convidados há aqueles que também não são dignos de participar da divina festa.
A festa de Babette
A festa de Babette, é um dos contos mais célebres de Karen Blixen (1885 –1962), narra a história de duas senhoras puritanas, filhas de um pastor protestante, que vivem uma vida muito opressiva até que o pai morre, o conto ficou famoso depois de ser filmado pelo diretor dinamarquês, sendo o primeiro filme de Blixen a ser filmado pelo Danish Film Institute, e o primeiro a ganhar um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
(1885 –1962), narra a história de duas senhoras puritanas, filhas de um pastor protestante, que vivem uma vida muito opressiva até que o pai morre, o conto ficou famoso depois de ser filmado pelo diretor dinamarquês, sendo o primeiro filme de Blixen a ser filmado pelo Danish Film Institute, e o primeiro a ganhar um Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
O roteiro foi adaptado por Just Betzer, Bo Christensen e Benni Korzen, nele Filippa (Bodil Kjer) e Martine (Birgitte Federspiel) são filhas do rigoroso pastor luterano, que após sua morte, surge no vilarejo Babette (Stéphane Audran), uma parisiense que se oferece para ser a cozinheira e faxineira da família.
Muitos anos depois de trabalhar na casa, ela recebe a notícia que ganhou um grande prêmio na loteria e se oferece para preparar um jantar francês de gala em comemoração ao centésimo aniversário do pastor, os paroquianos inicialmente temerosos, aceitam o banquete de Babette.
O simbolismo do filme é forte, os tons de azul ligeiramente contrastados, estão na fronteira entre o céu e a terra é quase imperceptível, em meio a paisagem cinzenta da Dinamarca, uma primeira imagem prenuncia uma comunhão diferente num lugar entre coisas terrenas e celestes.
Outro aspecto da simbologia é o peixe, muito influente no cristianismo primitivo, porém é a mesa que foi capaz de re-ligar aquelas pessoas com um verdadeiro eu, e despertar-lhes novamente um sentido pela vida que há algum tempo tinham perdido.
A dança dos participantes ao redor do povo (foto), também uma simbologia religiosa, é um ponto alto desta retomada de sentido da vida daquelas pessoas.
O que a arte de Babette, a comida feita com amor e arte fez, foi criar na mesa uma “espécie de envolvimento amoroso”, mas “num envolvimento amoroso daquela categoria nobre e romântica na qual a pessoa não mais distingue entre o apetite ou a saciedade, corporal e espiritual!”, assim como descreve a própria autora da peça original, Blixen exprime assim o mais profundo de sua expressão neste conto.
Eça de Queirós e a mesa
Estando em Portugal em 2018, e sendo a Uab (Universidade Aberta) muito próxima a Confeitaria Cister, onde Eça de Queiroz frequentava, há inclusive um desenho do canto que ele gostava de ficar e ali escrever (foto), lembro da mesa portuguesa lembrando deste canto de Lisboa, e os escritos de Eça sobre a mesa de refeição.
muito próxima a Confeitaria Cister, onde Eça de Queiroz frequentava, há inclusive um desenho do canto que ele gostava de ficar e ali escrever (foto), lembro da mesa portuguesa lembrando deste canto de Lisboa, e os escritos de Eça sobre a mesa de refeição.
Um dos textos mais comuns sobre o tema é um artigo conhecido como “cozinha Arqueológica”, publicado em 1893, na Gazeta de Notícias, de Lisboa, Portugal. Nele Eça afirmou: “a mesa constituiu sempre um dos fortes, se não o mais forte alicerce das sociedades humanas” e ainda “o caráter de uma raça pode ser deduzido simplesmente de seu método de assar a carne” (III, p. 1226)
Eça antecipou as reflexões de historiadores como Jean François-Revel (1996) e Massimo Montanari (2004), para quem os valores do sistema alimentar são resultado da representação dos processos culturais e as relações se desenvolvem de acordo com critérios econômicos, nutricionais e simbólicos.
O autor não apenas propôs observações da cozinha nas sociedades clássicas, como também considerou que a gastronomia possui um arqué, um elemento básico das representações da sociedade portuguesa, o que foi notado por vários de seus leitores e críticos, a comida despertou, por exemplo, a atenção de Machado de Assis já em 1878.
A moda brasileira, Machado de Assis viu aí em Eça uma fartura desnecessária, o argumento sobre este tipo de excesso se contrapõe o da coerência gastronômica que se constitui ao longo da obra, a comida está relacionada ao próprio excesso deste escola literária, se Eça não tivesse continuado a ser cuidadoso com este tema, o cuidado deveria aumentar tanto em quantidade como em qualidade nas obras e versões seguintes, reforçando por exemplo que o autor de “Os Maias” pode ter encontrado na cozinha os elementos fundamentais de seu projeto de representar Portugal através de seus traços mais característicos.
O certo é que a mesa se expande aos valores culturais e sociais, assim como os tempos, as épocas de desenvolvimento das sociedades e até das escolas literárias as refletem.
ASSIS, Machado. Eça de Queirós: O Primo Basílio. In: Obra Completa. V. III. Rio de Janeiro: Aguillar, 1997.
O banquete de Platão
Nos banquetes, as mesas e o compartilhamento de alimento se  celebram muitas coisas, inclusive o diálogo sobre temas essenciais.
celebram muitas coisas, inclusive o diálogo sobre temas essenciais.
Ocorrido por volta de 380 a.C. é um diálogo, e há alguns que preferem a tradução do grego como Simpósio (no grego antigo sympotein significa “beber junto), e o tema central é o Amor, entre o eros e o ágape, e o personagem central como na maioria dos seus diálogos é Sócrates.
Também estão no diálogo Aristófanes e Ágaton (ou Agatão), na casa dele ocorrera um banquete anterior em comemoração ao prêmio literário que ele havia ganhado, neste banquete Sócrates e outros participantes discursaram sobre o “amor”, estavam nele Apolodoro e Glaucon, Aristodemo e o próprio Ágaton.
Glaucon considera Apolodoro como doido porque despreza o material, Ágaton significa “bom” em grego, coisas boas e o amor levam à prática do bem e do belo, e se soubéssemos a prática do amor o bem que faz, os homens fariam um exército de amantes, lembrando o exército de banos, cuja frente estava Pelópidas e Epaminondas em 371 a.C.
O discurso de Fedro é que o amor cultuado pelos homens revela-os mais virtuosos e felizes durante a vida e após a morte, mas é na cosmogonia que os discursos vão se contrapor, enquanto Fedro vê a origem de Eros como um deus muito antigo, sem menção de progenitores, teve seu nascimento junto a Geia (terra) após o Caos.
Pausânias o segundo a discursar, contrariando Fedro, existem vários Eros, era filho de Afrodite, e duas Afrodites, uma filha de Urano e outra de Zeus, a de Zeus gera um eros vulgar e a de Urano um Eros celeste.
Eriximaco aprova a distinção de Pausânias sobre a duplicidade do Amor e, universalista, o amplia a todo cosmo: “grande e admirável, e a tudo se estende ele, tanto na ordem das coisas humanas como entre as divinas”, sendo médico afirma que o amor e a concórdia provem a harmonia, combinando opostos (o sadio e o mórbido) que se estendo por todo universo: “deve-se conservar um e outro amor …”.
Aristófanes insistirá no poder que o amor possui sobre a natureza histórica, com o uso do mito dos andróginos, legimitima a homoafetividade e a desenfreada busca pelo que hoje chamamos de “almas gêmeas”, que é uma busca pelo perfeccionismo e de certa forma pelo narcisismo.
Sócrates elogia o fato de Ágaton ter principiado a mostrar a natureza e quais são as obras do Amor, mas depois segue seu clássico método da Pergunta: “é de tal natureza o Amor que é Amor de algo ou de nada?”, Ágaton confirma que o Amor é Amor de algo. De qual “algo” é o Amor e segue com a indagação: “Será que o Amor, aquilo de que é amor, ele o deseja ou não ?” e segue o banquete a moda dos clássicos gregos.
O banquete, a mesa a qual todos sentam é o importante deste diálogo, parece tão clássico e tão presente, mas acrescentaríamos uma questão e Francisco de Assis, lembrado estes dias, afirmava ele com convicção: “O Amor não é amado”, assim antes de ser instrumento como afirma Agaton é ele próprio algo a ser usado como instrumento, em momento de tanta dor na humanidade, ou então a maneira socrática perguntar: “É o Amor amado ?”.
Platão, O Banquete, ou, Do Amor – trad. José Cavalcante de Souza, Rio de Janeiro: DIFEL, 2008.
Depois da chuva e a pandemia
O filme de um assistente de Akira Kurosawa, Tadashi Koizumi, tem este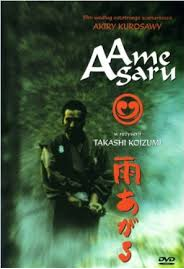 nome “Depois da chuva” (Ame Agaru, 1999) era um roteiro de Kurosawa que Tadashi herdou, o primeiro ponto que pode-se destacar neste filme é a relação homem/natureza que limita a ação humana e ficam presos no meio de um caminho esperando a chuva passar, como muitos outros tem também um samurai, mas ele vai ter ali que realizar uma tarefa que não é muito digna de um samurai, arrumar dinheiro para as pessoas que ficam ali poderem comer, esta é minha analogia com a pandemia, ali do tempo em que todos ficam presos na casa, analogia que faço com o isolamento social.
nome “Depois da chuva” (Ame Agaru, 1999) era um roteiro de Kurosawa que Tadashi herdou, o primeiro ponto que pode-se destacar neste filme é a relação homem/natureza que limita a ação humana e ficam presos no meio de um caminho esperando a chuva passar, como muitos outros tem também um samurai, mas ele vai ter ali que realizar uma tarefa que não é muito digna de um samurai, arrumar dinheiro para as pessoas que ficam ali poderem comer, esta é minha analogia com a pandemia, ali do tempo em que todos ficam presos na casa, analogia que faço com o isolamento social.
O protagonista do filme é um personagem do tipo “jidai-geki” (os filme que tem inspiração na história do Japão), poderia ser também um filme sobre o “outono de um samurai”, há outro filme de roteiro feito por herdeiros de Kurosawa chamado “Rapsódia em Agosto” (1991), neste o diretor foi Kiyoko Mura.
Esta cosmovisão de não conceber o homem separado da natureza, em tempos que a ecologia era ainda tema marginal, agora com a redescoberta da natureza temos uma interessante analogia a ser feita, a natureza nos limitou atrás de um vírus, e ontem assistimos picos de temperaturas baixas no sul do continente americano, as temperaturas tem ficado 20ºC abaixo de zero em Rio Grande (Terra do fogo), de acordo com os dados do Serviço Meteorológico Nacional (SMN) da Argentina.
Já nos EUA onde é verão, o recorde de temperatura alta foi no “vale da morte”, 54,4ºC um recorde muito próximo da maior temperatura já registrada na região que foi de 56,9ºC em 1913, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) americano, a natureza dá seus sinais de reação a ação ecológica pandêmica de séculos.
Voltando a chuva no meio de uma mata por onde passam pessoas pobres, num certo momento o samurai se vê na condição de ajudar aquelas pessoas devido o longo período que estão isolados, e ao sair depara-se com um assassino que o samurai vai impedir um duelo que poderia terminar em morte, e por isto o senhor feudal dono daquelas terras decide emprega-lo como mestre espadachim, resta um escrúpulo que é aceitar dinheiro, o que é desonroso para o samurai.
O Samurai decide fazê-lo por um fim nobre que é ter alimento para aqueles pessoas que estão retiradas ali quase todas pobres por estarem fazendo aquele caminho pelo meio da mata, quando foram impedidos de prosseguir pela chuva.
Se a mensagem naquele tempo foi pouca apreciada, hoje com a situação econômica que teremos depois da pandemia, a mensagem é nobre e social.
Abaixo um link para ver o filme:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=1mR0KV-c9EY
A mãe do Senhor e a tragédia grega
A tragédia grega Édipo Rei foi analisada pelo poeta Hölderlin, onde usa o termo aórgico para a busca que Édipo faz para saber que é, uma vez que fora doado a um pastor pelo pai Laio para cria-lo, para evitar a tragédia prevista pelo oráculo de Delfos, e para completar a tragédia Édipo acaba por desposar a própria mãe.
usa o termo aórgico para a busca que Édipo faz para saber que é, uma vez que fora doado a um pastor pelo pai Laio para cria-lo, para evitar a tragédia prevista pelo oráculo de Delfos, e para completar a tragédia Édipo acaba por desposar a própria mãe.
O termo aórgico aqui é usado para entender a corrupção da natureza humana, e pode ter um sentido novo a cada nova tragédia humana, é o sentido de Hölderlin ao dizer que “onde há medo há salvação”, devemos temer não só a pandemia que já é um desastre, mas o que pode vir de desumano e aórgico após esta tragédia.
Não faltam apocalípticos, no entanto o interessante seria pensar o além da tragédia e inverter o papel de Jocasta para uma mãe que defende e quer seus filhos são e salvos, e assim numa reinvenção humana olhássemos não para Eva da criação humana, mas para Maria que deu à luz ao divino filho.
Não é só o preconceito religioso que desvia deste sentido profundo da fecundidade e da maternidade humana, é a relevância do papel da mulher ao segundo plano, a a análise de Hölderlin envolve os paradoxos que comumente constituem o trágico, como o humano e o divino, e a tarefa poética da modernidade como uma tarefa possível para toda e qualquer poesia, assim seu plano cultural não pode eliminar o trágico, mas deve também incluir o divino.
É esta misoginia do humano ao divino que nega todo e qualquer papel da mulher, Maria deveria ser tema apenas religioso, mas também o divino ligado ao trágico, a Pietá ainda que lembrada e revisitada por tantos autores, esconde o papel da mãe desolada diante do filho desfalecido, também Salvador Dali em seu quadro Christus Hypercubus coloca uma figura feminina ao pés do quadridimensional Christus, inspirada em sua esposa.
Aos cristão ignora-se a passagem bíblica do evangelista Lucas (Lc 1,43): “Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar “, e o Senhor neste caso não é apenas o filho divino-humano que nascerá de Maria, mas também o Deus Senhor de Maria e Isabel, que diz isto “cheia do Espírito Santo” (Lc 1,41), assim a relação é trinitária e aórgica, afinal o acontecimento natalino está envolto do mistério das leis do universo que sobre ela agiram.
Em meio a pandemia seria extraordinário se a mesma mãe da Pietá estive com a humanidade em seu colo (matris in gremio) e pudesse numa inspiração trágica e divina socorrer a humanidade que desfalece e vê um futuro cada vez mais sombrio a frente, os mistério de Medjugorje e Garabandal (aparições misteriosas) podem não ser apenas fantasias de crianças (hoje todos adultos), mas a própria revelação divina sobre o trágico humano, quem dera seja verdade, onde há medo, há salvação.
O que há entre a tragédia e o idealismo
O grande tema durante a pandemia, que atrai multidões é a felicidade, não por acaso, já que a felicidade estava em tudo o que está fechado agora: o shopping, o cinema, as casas de orgias e bebedeiras, o simples êxtase de estar em uma multidão frenética por algum motivo frívolo, afinal é a frivolidade que todos almejam que volte, não haverá nada de grandeza em penetrar na tragédia de uma pandemia, é preciso encontrar os culpados e puni-los por banirem a vida frívola e nos colocarem todos em tensão constante, em medo e longe do simples desfrute.
felicidade, não por acaso, já que a felicidade estava em tudo o que está fechado agora: o shopping, o cinema, as casas de orgias e bebedeiras, o simples êxtase de estar em uma multidão frenética por algum motivo frívolo, afinal é a frivolidade que todos almejam que volte, não haverá nada de grandeza em penetrar na tragédia de uma pandemia, é preciso encontrar os culpados e puni-los por banirem a vida frívola e nos colocarem todos em tensão constante, em medo e longe do simples desfrute.
Nietzsche escreveu sobre O nascimento da tragédia, e culpava Empédocles por sua morte, porém foi Hölderling que vai escrever sobre a Morte de Empédocles, foi ele antes de Nietzsche que rediscutiu a tragédia, e o trágico da tragédia, num diálogo com o idealismo alemão e foi quando cunhou a sua frase mais famosa: “onde há medo há salvação”, quase na mesma linha que escreveu Cassius Clay que tornou-se Mohammed Ali: “é a ausência de fé que faz as pessoas temerem desafios”.
A pandemia não é outra coisa senão o fato de entender os limites do humano, a persistência da tragédia em nossas vidas e destinos, e a fatalidade da morte, aqueles que nunca pensaram nela são aquelas que mais a temem agora, nunca ela este tão próxima de todos, mas a tragédia é o mal, ou a falsa venda de felicidade fácil, é nela que se fiam os charlatães da filosofia, da fé e até mesmo da ciência sem “rótulo”.
A Morte de Empédocles, peça inacabada, onde Hölderlin trabalhava de 1797 até 1799, em seus textos poéticos deste período, onde pensava sobre a essência do trágico é marcado por um grande antagonismo, mas sobretudo a unificação do antagonismo com a contradição, onde deixa claro que o tema deveria ser “a verdadeira tragédia moderna”, talvez não durante as duas guerras também trágicas as enfrentamos, mas agora numa pandemia sem fim.
Em sua análise Empédocles odeia a civilização, é inimigo mortal da limitada existência humana, não suporta viver submetido ao tempo, sofre por não ser um deus, por não estar em intima união com o todo, e, por uma necessidade que decorre de seu ser mais profundo, decido morrer jogando-se no vulcão.
É menos mentiroso que os verdadeiros de formulas simplórias para a felicidade, porém trágico que queira ser ele próprio deus e que seria mais “nobre” que admitir um Deus, morto não pela tragédia, mas pelo idealismo alemão, afinal de Fichte a Schelling, a grande expressão que transgride o limite imposto por Kant ao conhecimento humano, ao considerar toda intuição, aquela que sensível aos objetos, torna-se intuição intelectual e intuição artística, sendo capaz de dar um conhecimento imediato ao absoluto, de possibilidade revelações que se dirigem ao todo.
Assim no ensaio “fundamento para Empédocles” diz que a tragédia é a expressão da “unidade íntima mais profunda” que se expõe por oposições reais, a ideia não só deve muito a análise de Schelling, que define a tragédia grega como apresentação conciliadora das contradições da razão, mas antecipa a visão hegeliana do poema trágico como apresentação da “tragédia que o absoluto encena eternamente consigo mesmo”, mas o absoluto aqui é vago, ideal.
No “fundamento para Empédocles”, Hölderling expõe como se dá a oposição harmoniosa entre arte e natureza, apresentando o processo pelo qual a natureza torna-se mais orgânica e o homem, mais aórgico, mais universal.
O conceito de aórgico aqui é fundamento, e a leitura aqui é de Françoise Dastur “Hölderlin, tragédia e modernidade” onde a define como “é a natureza desprovida de organicidade em sua unicidade infinita. O orgânico é a arte, que supõe, pelo contrário, organização e, portanto, oposição das partes”.
A na relação aórgica que pode-se encontrar a pandemia, o culpado é em última instância o vírus, o controle do vírus é questionável até que se tenha a vacina, fomos favoráveis ao isolamento social e em certos momentos do #LockDown, porém é na natureza desprovida de organicidade, um vírus que até então era estranho ao homem que alterou-o e se hominizou colocando o processo civilizatório em cheque, e a natureza parece revidar o que lhe propôs a humanidade.
Hölderlin, Friedrich; Curioni, Marise Moassab. A morte de Empédocles. SP: Iluminuras, 2000.

